Outono, 2017
17 de outubro de 2017 § Deixe um comentário
Voltei para a cidade e agora não estou tão exilada. Já faz um tempo, mas percebi que sou uma eterna autoexilada, pois já não há casa mais para a qual voltar. Há casas e cada uma está numa coordenada; se as ligasse umas às outras, acabaria com uma sucessão de traços que não formariam uma figura geométrica reconhecível – não há ciclo completo, só perplexidades.
Ando por aqui à procura de um caminho, de um lugar. O ambiente físico me consola, mas estranho-o, já não parece mais de quem mora aqui, mas, sim, de quem está de passagem. Como tantos lugares belos, virou uma espécie de parque de diversões não vertiginoso para os desocupados ou para os que estão sem bússola interna.
Gosto do outono porque ele é uma desaceleração da indulgência antes do solstício do exagero e o retorno à vida que se convencionou chamar de normal, de expectativas mais ou menos manejáveis. A cidade acalma-se um pouco, embora este ano os arredores estejam, tragicamente, a arder.
A luz é bela, as minhas cores favoritas se revelam.
Ironias
19 de agosto de 2013 § Deixe um comentário

Em dias azuis de céu compacto, com as gaivotas a gritar, a visão seletiva retorna à cidade-gêmea. Pois, a ironia, senhores, de morar na cidade-gêmea da dos meus anseios. O sol leve, moderado, é apenas mais um pormenor.
E a grande ironia do exílio que é estar ao mesmo tempo ausente de, e presente em, dois lugares.
Places
26 de julho de 2013 § Deixe um comentário
“Perhaps it’s that you can’t go back in time, but you can return to the scenes of a love, of a crime, of happiness, and of a fatal decision; the places are what remain, are what you can possess, are what is immortal. They become the tangible landscape of memory, the places that made you, and in some way you too become them.”
― Rebecca Solnit, A Field Guide to Getting Lost
“Talvez seja não conseguir voltar no tempo, mas poder retornar às cenas de um amor, de um crime, de felicidade, de uma decisão fatal; os lugares são o que resta, o que você pode possuir, são o que é imortal. Eles se tornam a paisagem tangível da memória, os lugares que nos moldaram, e, de certa forma, você também se torna os lugares.” (tradução livre)
Blogues mortos
11 de junho de 2013 § 4 Comentários
É estranho descobrir cantos de escrita abandonados.
Com textos últimos que datam de alguns meses, ou vários anos até.
Eu mesma tenho os meus.
Mais esquisito ainda quando não há indicação sequer de quem seja a(o) autor(a).
Algo como uma descoberta de hieróglifos anônimos, que dão pistas biográficas mas não o rosto ou a graça de quem deixou todas aquelas histórias e impressões ali.
Por quanto tempo será que esses blogues se manterão no ar antes que os donos de sua esfera resolvam apagá-los?
E o que pensarão aqueles que os encontrarem, esses diários interrompidos, essa verborragia que um dia resolveu calar-se e nem se deu ao trabalho de meter trancas na casa.
Estado de graça
7 de abril de 2013 § Deixe um comentário
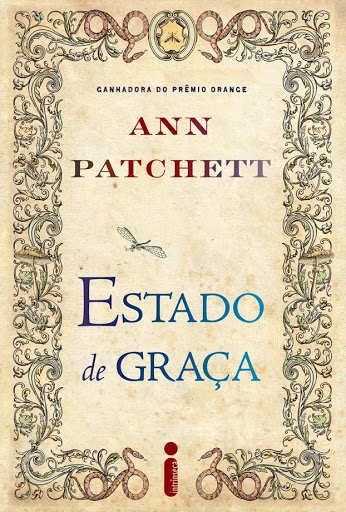
Desde o início, a leitura de Estado de Graça, publicado no Brasil pela Intrínseca, tem me dado um prazer absurdo, o livro é, como se costuma dizer aqui, um real page-turner, ou seja, difícil de largar enquanto tudo mais espera por você.
A narrativa, em terceira pessoa, se passa na Amazônia, e envolve a pesquisa de uma droga de fertilidade, pesadelos recorrentes, questões que somente o deslocamento espacial é (talvez) capaz de solucionar e, como de certa forma não poderia deixar de ser, uma tribo indígena (fictícia).
O que me atraiu num primeiro momento para a leitura foi mesmo a curiosidade pelo “olhar estrangeiro” sobre a Amazônia. O que não deixa de ser irônico, pois, para mim, paulistana que pouco viajou pelo Brasil e emigrou, a Amazônia brasileira (partes da história se passam em Manaus e a tribo em questão parece ser do Amazonas) é um território tão estrangeiro como qualquer outro que tecnicamente o seja. Talvez por ter enveredado pelos estudos culturais e de tradução, para mim a ideia de “nação” como princípio unificador de um povo seja, em princípio uma falácia. E, quando pensamos em um país tão grande e diverso quanto o Brasil, em que há variações culturais e idiomáticas, acho complicado definir o que é “ser brasileiro”. Mesmo assim, tenho a tendência de pensar na floresta como (parcialmente) “nossa” e um completo mistério.
Obviamente, a grande personagem do livro é a selva, ela e suas profundezas, também protagonistas de Coração das Trevas, em que fica difícil não pensar diante do livro de Ann Patchett. É o lugar e seu efeito enquanto exílio sobre os pesquisadores estrangeiros – com exceção da Dra. Budi, indonésia, para quem o ambiente hostil, quente e úmido “deve ser familiar” – que vai criando a dinâmica e as camadas da narrativa. Isso e, claro, as impressões de Marina Singh que, após desistir da viagem por sua missão estar teoricamente cumprida, após sentir que o retorno para casa se torna temporariamente inviável, resolve seguir o rio e a Dra. Swenson.
Tenho gostado muito do tom, sem paternalismos. E da escrita tão perfeita quanto deve ser aquela de uma história bem contada, interessante, sobre alteridades que, inesperadamente, iluminam opacidades internas.
Bristol
18 de janeiro de 2013 § Deixe um comentário
A traição das traduções
17 de março de 2011 § 3 Comentários
“A TRAIÇÃO DAS TRADUÇÕES,
por Hugo Xavier
O grande problema que o sector do livro tem de enfrentar todos os dias é a falta de leitores. A leitura continua a ser um prazer de uma minoria e um instrumento de trabalho de uma minoria apenas ligeiramente maior.
Noutro dia um oculista, enquanto fazia um ligeiro acerto nos meus óculos, dizia-me que todos os grandes míopes que lá tinha como clientes gostavam de ler. Isso explica-se por outro episódio engraçado. Quando era miúdo, e ao mudar de oftalmologista, de Espanha para Portugal, numa primeira consulta, ao referir que gostava de desporto, o dito oftalmologista suspirou e interpelou-me: «Até aposto que sei qual é o teu desporto preferido: É o basketball, não é?» Anuí. «Pois é», continuou, «todos os míopes adoram sempre os desafios de jogar com tudo o que envolva a maior dificuldade. Gostam de snooker, de bowling, de brincar com legos em vez de playmobils…» Contudo. aquilo de que queria falar hoje nada tem a ver com a teoria da leitura miópica. Quero falar de um programa grave no sector editorial hoje em dia: as traduções. Quero falar da enorme dificuldade de encontrar bons tradutores e dos motivos que estão por detrás disso.
É, de facto, cada vez mais complicado encontrar bons tradutores, literários e não só. E, curiosamente, o mercado oferece cada vez mais profissionais desta área. São milhares de jovens saídos de Faculdades de Letras, como aquela que frequentei, com cursos de especialização, com conhecimentos dos mecanismos e softwares de tradução. Muitos têm uma formação bem mais completa que alguns dos grandes tradutores da nossa praça, sabem e conhecem as técnicas de tradução dos mais diferentes tipos de texto, estudaram tratados de filosofia e teoria da tradução e tudo isso. Mas falta sempre algo.
Desde há uns anos que faço um teste de tradução com um texto de 5 páginas. É a entrada de um livro inglês. O ano passado, por exemplo, fiz 83 testes de tradução e, contudo, apenas 3 testes foram satisfatórios. Nem sequer bons ou excelentes.
A lista de problemas começa por algo que me preocupa muito nas novas gerações de hoje: uma total falta de empenho e brio. Os testes chegavam nos mais variados formatos informáticos, geralmente com uma péssima apresentação, com espaços entre parágrafos onde eles não tinham espaçamento, com erros de ortografia berrantes que provavam a não existência de um qualquer tipo de revisão ou, ao menos, de segunda leitura. Mas aqueles testes que passavam essa primeira barreira traziam outros problemas. Quase nenhum dos tradutores, apesar do teste incluir a referência ao título da obra e autor, se lembrou de fazer algum tipo de investigação sobre a dita. Se o tivessem feito, provavelmente teriam descoberto na primeira crítica de leitor da Amazon (por exemplo, ou do site da editora ou do do autor), que o livro narra um episódio da vida de um crítico de teatro e da sua gata. E não teriam tido problemas em compreender duas ou três referências do início do livro, em que tentaram incorporar no sentido do texto títulos de peças que apareciam camuflados sem itálicos no texto original. Muito menos teriam mudado o sexo à gata.
Os poucos que sobreviveram a estes problemas tinham o grande problema por resolver: a falta de sensibilidade. Essa falta de sensibilidade é fruto da situação de mercado: estes candidatos a tradutores fazem parte da maioria da população que não lê ou lê pouco. E, no entanto, querem singrar numa área que pressupõe a leitura. Os resultados são terríveis: traduções pejadas de calinadas, mau português, perda de sentido, perda de ambiguidade onde o texto literário a exige. Isto para já não referir que, quando não se é leitor assíduo e competente e se quer traduzir um texto com alguma carga literária, acha-se que se deve manter tão fiel quanto possível ao original e acaba-se por comprometer toda a necessidade de reinterpretação, que é um factor essencial da tradução. Já nem sequer falo aqui do total desconhecimento da língua de partida que resulta na perda ou tradução muitas vezes literal e desprovida de sentido de expressões idiomáticas, da falta de cultura geral que dá origam a erros ridículos de interpretação, ou da falta de informação sobre temas essenciais da obra a traduzir.
Devido à minha profissão e orientação da Cavalo de Ferro, raramente me sobra tempo para ler edições portuguesas (que estão numa pilha ao lado da minha cama, para um futuro mais descansado). Mas, quando o faço, sou constantemente surpreendido pelas traduções assombrosas que por aí pululam. Dou um exemplo: há pouco tempo e por sugestão da Maria Teresa Horta, que há uns anos tinha feito uma crítica ao livro, num intervalo de leituras, resolvi-me a ler uma obra de Fred Vargas, Vai e Não Voltes Tão Depressa, que se anunciava como um thriller literário de qualidade, publicado pela Dom Quixote. Já não vou falar da tradução do título (no original Pars vite et reviens tard), que poderia passar por opção do tradutor. Contudo, quando mergulhei na leitura, mal queria acreditar. Apesar de a minha formação ser em língua inglesa, sentia o francês em toda a tradução, mas o pior nem era isso. Era a quantidade monstruosa de erros de palmatória de português. Acreditem-me que não havia um só pronome reflexo na posição correcta (e mesmo os que não eram reflexos andavam a passear pela estrutura sintática nas posições mais estrombólicas). Não havia página sem erros gravíssimos de português. Pois bem, pouco tempo depois, falei com a Maria Teresa Horta e perguntei-lhe como tinha conseguido ler aquele texto. É que eu não conseguia desligar o meu motor crítico, como consigo em muitos textos, eram erros demais! E na ficha técnica estava o nome de uma revisora! A MTH disse-me que tinha visto os erros, mas que eram algo tão comum à maior parte dos livros que recebia para recensear que já não ligava, sobretudo porque não tinha espaço para passar à parte mais técnica da crítica.
Não quero que entendam esta crónica como uma crítica à classe dos tradutores ou à categoria dos «jovens tradutores», mas que estes defeitos estão presentes na grande maioria deles, estão. Felizmente há excepções.
A verdadinha é que as operações laser e as lentes de contacto têm afastado muito boa gente da leitura; leitores, editores, tradutores e revisores. Temos todos de olhar um bocado melhor para o que queremos fazer porque ainda somos responsáveis pela transmissão de importantes valores culturais e de forma muito clara, porque não são os smsesses, os jornais e revistas, as legendas ou as barras informativas na parte inferior do ecrã dos telejornais que continuarão a mostrar o que é o bom português – com ou sem acordo ortográfico. E há muitos leitores míopes e dos outros que dependem de nós, para já não referir muitos futuros tradutores.”
Texto de 2009 de Hugo Xavier, agora diretor editorial da Editora Babel, extraído do blog Booktailors.
Japão
17 de março de 2011 § 4 Comentários
Este ano, bateu a urgência de ir ao Japão. Foi uma das minhas resoluções espontâneas – espontâneas porque não as faço – para 2011, e tenho testemunhas. Andei dizendo a todos que não gastaria com viagens pequenas a destinações de certa forma irrelevantes, e que, dada a efeméride que tenho para celebrar, o próximo destino tinha de ser o Japão. Cheguei a pesquisar os guias, ver o preço das passagens, toda a logística pré-viagem de que tanto gosto. Para aplacar esta saudade que sinto de um lugar que jamais visitei.
Porque pensar no Japão me traz a antecipação por alegrias serenas, prazeres estéticos, entre tantas outras coisas – uma jornada espiritual, e não no sentido deístico da expressão.
É claro que o meu discurso está imbuído de uma romantização que não corresponde à realidade integral daquele povo que, como qualquer outro, também tem rachaduras nos pilares da sua cultura; de um país onde há crime organizado e que é constantemente acusado de atrocidades ambientais, e todas as estas coisas sobre as quais ficamos sabendo nos noticiários. A verdade, talvez, seja que eu não queira ir ao Japão, mas ao meu Japão, mas que vá, de certa forma, encontrar ambos, e que eles irão se amlgamar. Pois é assim que amamos, apesar de tudo, não por platonismos.
Por enquanto, então, faz-se a pausa neste plano. Desde sexta-feira que eu sinto uma dor incômoda, que me fez chorar manso algumas vezes ao dia, quando penso nas pessoas, nos animais, em todos os que estão à deriva, famintos e feridos, num cenário de destruição, frio, hostil, envoltos nos vapores da morte, desconectados dos seus heróis. Na radiação, naqueles que estão, de macacões vedados, voluntariamente, arriscando-se a tentar evitar uma amplificação dessa tragédia. São tantos os clichés de um desastre, mas nem isso amortece o que sinto ou impede os lugares-comuns do meu discurso.
Falava disto com um amigo ontem, de como não me conformava com o pequeno apocalipse que aquela gente está enfrentando, e ele, num tom de brincadeira que empregamos quando não queremos pensar a fundo na dor, disse: “espere alguns dias e tudo volta ao normal.”
Não é bem assim, mas quando nos referimos aos japoneses, sabemos que é este o espírito: de resiliência, de construção, criação, da falta de autopiedade. Na fotografia que ilustra este post, tirada num passeio que fiz no sábado e que me fez pensar no Japão, há uma pequena crisália no galho da árvore que começa a florir. E eu penso que a reconstrução já começou, pois é inevitável, a única coisa a ser feita. É isto que nunca deixa de me assombrar, apesar de tudo.
















